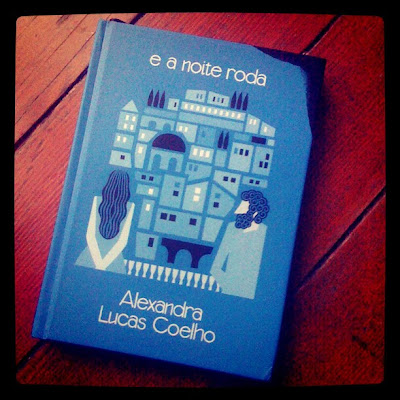Experiência e memória são as palavras que mais
lerá nesta entrevista. E não por descuido na passagem da conversa para o texto.
É que, para Alexandra Lucas Coelho, 44 anos, essas são as ferramentas centrais
da sua escrita. Quer no jornalismo, que pratica há mais de duas décadas, neste
momento como correspondente do Público no Brasil, quer na Literatura, onde agora se estreia, com o romance E a Noite Roda, uma edição
da Tinta-da-China
No tempo dos faraós, os egípcios
acreditavam que citar um nome de um morto era fazê-lo viver eternamente. A
noção que Alexandra Lucas Coelho (ALC) tem da escrita não anda muito longe
desta sabedoria antiga. Para si, escrever é acionar uma matéria informe e morta
que, uma vez resgatada, desperta para uma nova vida. “A única forma de voltar
[a uma experiência] é escrever para que exista”, afirma a narradora do seu
primeiro romance, E a Noite Roda (248 pp, 16,20 euros), que é lançado hoje,
quarta-feira, 7, a partir das 22, no Bar do Teatro A Barraca, numa conversa com
Gonçalo M. Tavares. “Quando é que o real se torna real?” questiona-se, na mesma
linha, ALC, nesta entrevista. “Quando acontece ou é contado?”.
Este primeiro romance é, assim, uma forma de perceber
como se pode captar o mundo que nos rodeia, aqui sem os constrangimentos do
jornalismo, a sua profissão e escola de escrita. À sua semelhança, a narradora
deste livro, Ana Blau, é jornalista, enviada especial ao Médio Oriente, mulher
que se habituou a cruzar fronteiras e a ver a cidade onde nasceu com os olhos
da novidade. Um dia apaixona-se por outro correspondente, León, o que a levará
a uma incerta aventura amorosa. “Ela sou eu mas depois já não é”, afirma ALC,
apresentando as regras desta história. No jogo da literatura, é a liberdade
quem mais ordena. Transfigurando a memória, sublimando o real, recosendo as
linhas da sua experiência.
Este livro começa
com uma evocação de Gilgamesh. Qual o seu significado?
Marcar,
desde o início, a passagem de uma fronteira. Gilgamesh é a nossa narrativa
primordial, o primeiro de todos nós, como se diz no livro. Ao nomeá-lo, a
narradora imita aquelas pessoas que ao entrar num templo ou terreiro evocam o
espírito que lhe preside. A narradora convoca o passado para ter consciência do
que está para trás e sublinhar que o território que vai pisar
é o da literatura, das histórias que se contam. Se virmos os meus livros como
um percurso, este prólogo é o momento em que eu assinalo a passagem dessa
fronteira.
A que separa o jornalismo da ficção?
Sim, embora considere “ficção”
uma palavra vazia, prefiro “romance”. O romance enquanto buraco negro que atrai
memórias, experiências e todo o tipo de matérias que depois são usadas como um
barro. O jornalismo é uma forma extraordinária de captar a realidade (que é o
que na verdade me interessa), mas tem algumas limitações, próprias do exercício
da profissão. Neste momento, quero tentar uma escrita que não tenha esses
constrangimentos.
Foi esta história que exigiu essa nova
escrita ou era uma vontade antiga?
Uma vontade. Mas quando digo
que se trata de avançar para outra etapa não significa um corte radical com o
que fiz para trás. Daí o aproveitamento de técnicas do jornalismo. Tudo pode
confluir para o romance, pois é um espaço inteiramente livre. Em E a Noite
Roda
eu emprestei à narradora, a Ana Blau, as minhas próprias circunstâncias. Fui
correspondente em Jerusalém, fiz muitas das reportagens que ela envia para o
seu jornal e a relação que ela tem com certos lugares é também a que eu tenho.
Acima de tudo, queria lidar com materiais da minha experiência e memória de uma
forma completamente diferente da que fiz como jornalista. E se as pessoas já
puderam ver parte dessa aproximação ao real (nos trabalhos para o Público), agora vou tentar
mostrar a outra.
Como se usasse duas lentes, uma
jornalística e outra literária?
Sim. Mesmo agora no Brasil,
sinto que há um tempo para observar e escrever no imediato e outro para
observar e escrever mais tarde. É pegar numa matéria-prima que num determinado
momento foi tratada a quente e abordá-la agora de uma outra forma. E com uma
liberdade inteiramente nova para mim. Fazer com as minhas memórias o que eu
quiser, transfigurando o material factual. Nesse sentido, Ana Blau confunde-se
comigo e isso é deliberado. Ela sou eu mas depois já não é.
São muitos os exemplos de escritores
que escrevem sobre sítios que nunca conheceram. Isso nunca acontecerá consigo?
Não descarto essa
possibilidade. Não faria sentido agora que estou a entrar num território de
total liberdade. Além disso, eu estive em todos os lugares que são referidos no
livro, mas não necessariamente naquelas alturas, estações do ano ou
circunstâncias. Entre os dois caminhos que se costuma traçar, um borgiano, da
imaginação e da fantasia, e outro proustiano, da experiência e da memória, o
meu será sempre o segundo.
O que a interessa nesse campo da
memória e da experiência?
Perceber o que é real, quando
se torna real, quando acontece ou é contado? Claro que a forma de chegar a essa
verdade não passa por contar as coisas como ou no momento em que se realizaram.
Se calhar conseguiremos transmitir com mais vivacidade essa realidade
retocando-a e transfigurando-a. Nesse sentido, este livro é também um jogo que
proponho ao leitor.
Ao usar a lente da ficção, o seu olhar
sobre o Médio Oriente mudou?
Só no sentido em que o ponto de vista é o da
intimidade, dos bastidores, e não do palco. O próprio movimento do livro vai do
plano geral para o grande plano, de dentro para fora, da paisagem para o
quarto. Por isso, não é que tenha descoberto um outro olhar sobre o Médio
Oriente. Apenas tentei regressar a uma cidade (Jerusalém) central na minha vida
e lidar com outras dimensões dessa experiência. E contar uma história.
Uma história de amor?
Não diria amor, antes paixão ou
desejo de paixão ou até desejo de aventura, dependendo do ponto de vista.
Interessou-me explorar esse tema, que é tanto meu como de muitas outras
pessoas, e perceber o seu fracasso, a sua angústia, o seu vazio, a sua
irrealidade. Entender também até que ponto essa paixão é gerada e
impossibilitada pelo exterior, se é ou não fabricada e afetada pelo contexto.
Esta paixão não seria possível noutro contexto?
Eis a questão. Talvez não. A
paisagem, aqui, mais do que um pano de fundo é também uma personagem. Esta
história existe porque as circunstâncias da Ana e do Leon são aquelas, naquele
lugar, com uma intensidade específica que gera uma aproximação e uma vontade.
Quando se retira a paisagem, descobre-se que não há nada debaixo dos pés.
A relação entre Ana e Leon é
idealizada mas também muito física...
Esse é outro campo que me interessa
particularmente. A relação sexual pode ser um revelador, como na fotografia,
das próprias personagens, dos seus avanços e recuos, das suas limitações. É um
território muito rico, que lida com o que é mais nosso. É como se, ao entrar na
literatura, estivesse a iniciar um caminho para dentro, depois de ter feito um
para fora, como jornalista. E todos estes temas são da mesma ordem. Quero descobrir
como se pode lidar com a memória e a experiência de uma paisagem, de uma
cidade, de um lugar e de duas pessoas numa cama. No livro, cito um poema de
John Berger que fala precisamente disto: “Maravilhoso o vento de primavera para
os/ marinheiros que anseiam partir/ E mais maravilhoso ainda o lençol que cobre
dois/ amantes numa cama”. É isso que procuro: o marinheiro que está à espera
que o vento sopre nas suas velas e a intimidade de duas pessoas. É também uma
tentativa de tornar a leitura uma experiência sensorial.
Em que sentido?
Dar a ver, como no jornalismo,
mas também dar a ouvir e a sentir. E se a ambição é conseguir tocar o real,
nada é mais desafiador do que dois corpos no afã de provarem que estão vivos.
Estas personagens podem vir a aparecer num novo romance?
Em relação à Ana, não. Penso
que ficou por aqui. O Karim, personagem que apenas é nomeado, vai aparecer no
próximo romance. Gosto da ideia de uma ligação entre livros e não descarto a
possibilidade de Leon regressar, ele que nunca chega a falar neste romance.
A escrita deste romance foi muito
diferente da dos outros livros?
Não teve nada a ver. Foi muito
morosa, enquanto a escrita dos anteriores foi rápida
e contínua. Mas cada um resultou de um processo diferente, até porque não me
interessa repetir fórmulas. Não me vejo, por exemplo, a fazer mais um livro de
viagens, embora no Brasil haja vários pretextos. O Caderno Afegão partiu de um diário e
foi escrito muito tempo depois de ter regressado. O Viva México foi um livro rápido, colado ao momento e concluído em dois meses.
Este romance é uma história contada por uma mulher e apenas conhecemos a sua
versão. Para mim não era importante construir uma trama tradicional ou
desenvolver as personagens secundárias. O próximo livro, no entanto, será
diferente, polifónico, e passado no Brasil.
Está lá há ano e meio. Como tem sido
essa experiência?
O Brasil é neste momento o centro do mundo. Toda a
gente está a olhar para aquele país contraditório e complexo. E o símbolo dessa
grande transformação é o Rio de Janeiro, uma cidade oposta à minha natureza. Ao
contrário de Buenos Aires, por exemplo, mais melancólica, o Rio é voltado para
fora. Raramente nos deixa pousar os olhos e a cabeça.
Porquê?
Aos nossos olhos, a cidade está
sempre a mudar. A topografia é tão extravagante que sempre que se muda de
direção, se entra ou sai de um morro, se observa de sul ou de norte, tudo
parece novo e mudado. E o meu Rio não é o das praias ou do Leblon. Moro no meio
da floresta, no Cosme Velho, o bairro onde viveu Machado de Assis.
O Brasil novo que está a parecer é sustentável?
É uma das grandes interrogações
que se colocam neste momento. Será que o Brasil vai se tornar um país
desenvolvido e, ao mesmo tempo, manter as produções de monocultura que estão a
destruir a Amazónia? E vai crescer à custa de milhões de pobres ou vai
proporcionar-lhes cuidados de saúde e uma educação que nunca tiveram?
Esse é um debate público?
É um debate que às vezes
aparece nas margens, poucas vezes no centro. Não sei dizer para onde vai o
Brasil, agora que ele surge como contraponto a um mundo em crise. Há uma enorme
explosão de emprego e importação de quadros - toda a gente quer ir viver para o
Rio. O que o Brasil tem de dizer ao mundo é se consegue encontrar um modelo alternativo
com o qual a Europa e os EUA possam aprender qualquer coisa. O que pode
resultar do cruzamento de várias heranças raciais e sociais?
De que forma essa experiência vai ser passada para o romance que está a escrever?
A ambição é tocar neste momento
único da história do Brasil e projetá-lo no interior das personagens. Será
centrado no Rio, embora absorva experiências de outras regiões brasileiras e
não só.
E terá ecos do português que se fala no Brasil?
Lidar com uma língua que
é minha mas ao mesmo tempo não é foi um dos motivos que me levou a ir para o
Brasil. E não tenho ideias muito definidas sobre isso. Falamos uma língua que
está a ser constantemente alargada e moldada por 190 milhões de pessoas que
vivem num país gigantesco. É fascinante, mesmo se no futuro der origem a uma
outra língua. E interessa expor-me a esse atravessamento. Como não sou uma
patrioteira nacionalista não tenho qualquer problema com isso. Não vou perder a
minha identidade, nem o meu sotaque.
Entrevista publicada no JL 1081, de 7 de Março de 2012